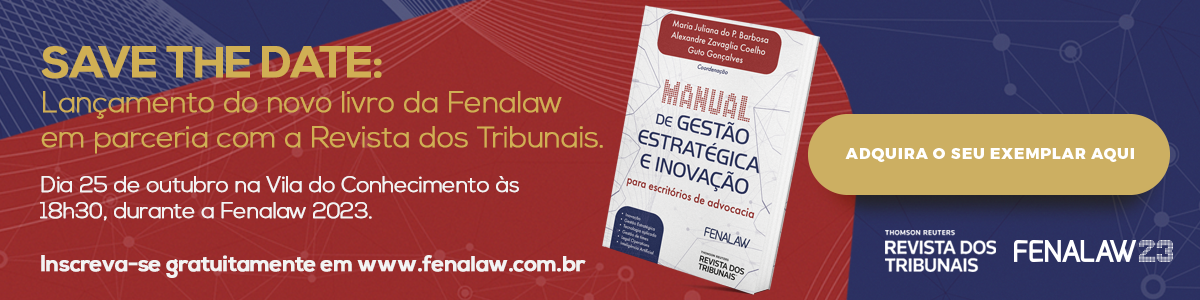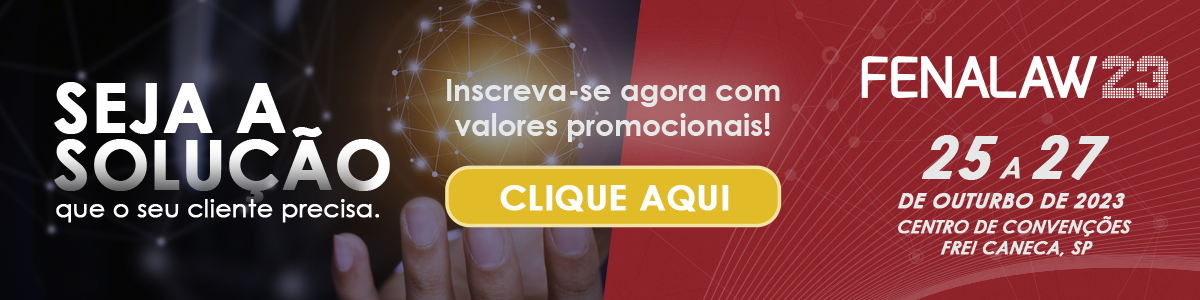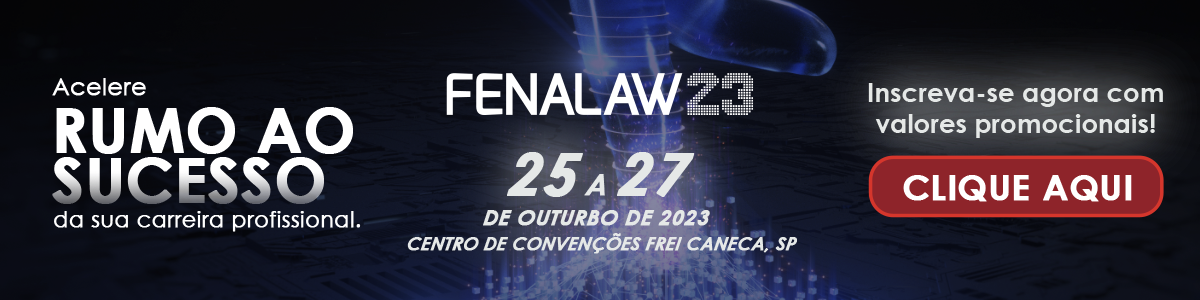Entre outubro e novembro de 2021 ocorreu a 26ª edição da principal conferência mundial relacionada ao clima, a Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), com a presença de seus 196 signatários. Além das discussões essenciais sobre medidas de financiamento climático e regulamentação do mercado de carbono, outro tema impulsionou a extensa participação da sociedade civil, das organizações internacionais e das empresas: a justiça climática.
A justiça climática é um termo que parte da compreensão de que as mudanças climáticas, embora sejam fenômeno global que afeta a todos, atingem de maneira diferenciada certos grupos e indivíduos. Existe um fator que gera e/ou acentua desigualdades entre tais grupos e indivíduos no que tange à sua resiliência aos impactos das alterações no clima, tais como condições precárias de acesso à renda e a serviços básicos de cidadania (saúde, segurança, educação e infraestrutura em geral). É, portanto, a incorporação dos fundamentos de direitos humanos à temática climática, inserindo as pessoas no centro das discussões sobre o clima.
Txai Suruí, indígena de 24 anos do povo Suruí, em Rondônia, proferiu discurso na cerimônia de abertura da COP26 afirmando que os povos indígenas estão na linha de frente das mudanças climáticas, sofrendo duramente suas consequências. A afirmação da ativista parte de lugares de certeza. Ao mesmo tempo em que as mudanças climáticas repercutem na aceleração da perda de biodiversidade, impactando na forma de vida dos povos indígenas, que dependem diretamente dos recursos naturais para sua subsistência, estes mesmos povos são comprovadamente responsáveis por preservar melhor as florestas e suas terras acabam por formar uma verdadeira barreira contra o desmatamento.
De outro lado, ativistas quilombolas brasileiros manifestaram-se pela falta de protagonismo do tema do racismo ambiental na conferência , conceito este que reconhece que populações com identidade racial reconhecida tendem a sofrer discriminação também de cunho ambiental, ocupando mais frequentemente zonas periféricas, insalubres, contaminadas, ou vulneráveis a eventos climáticos extremos.
Também não há neutralidade dos efeitos das mudanças climáticas quanto ao gênero. De acordo com a ONU, as mulheres são as primeiras a sentir os efeitos das mudanças ao precisarem percorrer distâncias cada vez maiores para encontrar o que precisam para alimentar suas famílias, lutando contra a insegurança alimentar e hídrica.
Do mesmo modo, comunidades mais pobres são também mais vulneráveis às temperaturas extremas, por falta de acesso ou de recursos para custeio da energia necessária a aquecedores ou resfriadores, por habitarem regiões de risco de inundações e deslizamentos, além de estarem mais expostas à insegurança alimentar e ao saneamento inadequado e terem maior dificuldade de acesso a serviços básicos de saúde.
Embora caiba ao poder público elaborar políticas públicas aptas a combater os efeitos das mudanças climáticas sobre as populações considerando suas particularidades e vulnerabilidades, o setor empresarial pode – e deve – agir em prol da justiça climática ao tratar do tema, considerando sua evidente intersetorialidade. Assim, ao endereçarem suas estratégias ESG (Environmental, Social and Governance), as empresam devem considerar as questões de mudanças climáticas tanto sob a perspectiva ambiental quanto social, não negligenciando a dimensão de direitos humanos que está inegavelmente ligada ao desafio climático.
A tarefa não é simples, embora haja alguns caminhos possíveis para as companhias, sempre pautados na colaboração, transparência e diálogo com comunidades locais, sociedade civil e governos. À luz das boas práticas ESG, uma coisa é certa: se as empresas desejam endereçar a questão das mudanças climáticas da forma adequada, devem considera-las sob duas perspectivas: tanto aquela óbvia a respeito dos seus impactos que estas causam ao negócio, quanto sob a perspectiva dos impactos que o negócio causa ao clima e aos direitos humanos.