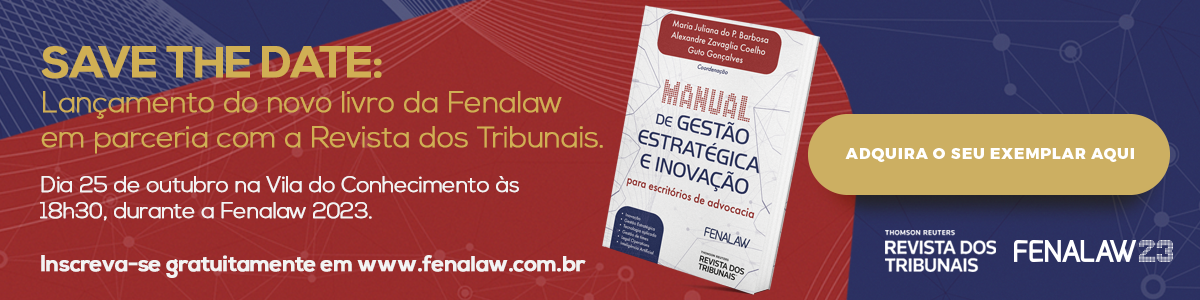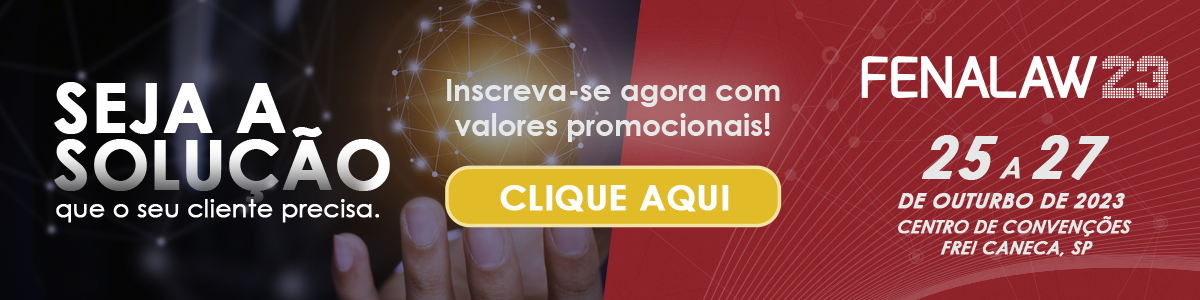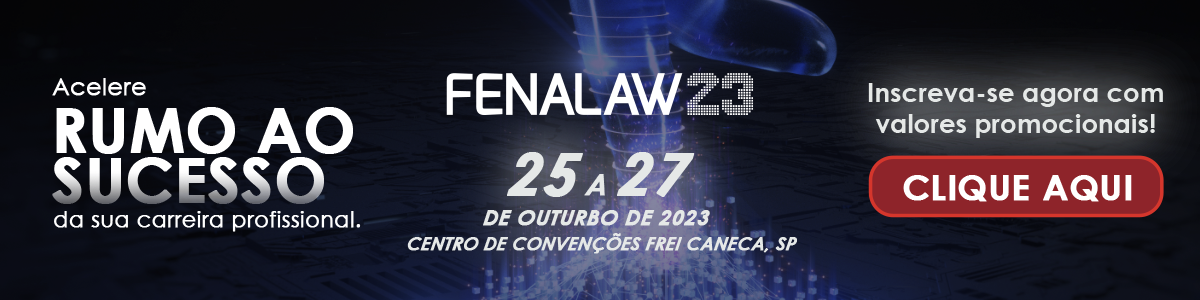O avanço das tecnologias digitais e das interfaces neurais trouxe à tona uma pauta jurídica tão sensível quanto inevitável: a necessidade de proteger não apenas os dados, mas a própria mente humana. A evolução de sistemas capazes de captar sinais cerebrais, antecipar emoções, influenciar decisões e modular o comportamento em tempo real aponta para um novo cenário regulatório: o da integridade mental como bem jurídico. Os chamados neurodireitos surgem nesse contexto como uma resposta ética, técnica e jurídica à fronteira mais íntima da atuação tecnológica, a cognição.
O conceito foi sistematizado pelo neurocientista Rafael Yuste, professor da Universidade de Columbia e líder da NeuroRights Initiative, que propõe a proteção de cinco dimensões fundamentais: privacidade mental, identidade pessoal, livre arbítrio, acesso equitativo às tecnologias cognitivas e proteção contra manipulações algorítmicas. Trata-se de garantir que o avanço da inteligência artificial, da neurotecnologia e da personalização algorítmica se dê de forma compatível com os direitos humanos e a autodeterminação individual. Não por acaso, o Chile se tornou, em 2021, o primeiro país do mundo a constitucionalizar os neurodireitos, reconhecendo a inviolabilidade da atividade cerebral e a autodeterminação mental como fundamentos da ordem democrática e científica, iniciativa que tem repercutido em organismos internacionais como a ONU e a UNESCO, que passaram a tratar a proteção cognitiva como elemento essencial da ética na inteligência artificial.
No Brasil, embora ainda não haja norma específica sobre neurodireitos, há fundamentos jurídicos relevantes que oferecem base para sua regulamentação, a começar pela Constituição Federal que assegura a dignidade da pessoa humana como fundamento, e a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da imagem, todos plenamente aplicáveis à proteção da mente. Há ainda a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), que trata como dados sensíveis informações referentes à saúde, à biometria e que, conforme interpretação ampliada, pode abranger também os chamados neurodados. O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), por sua vez, assegura a privacidade, a proteção de dados pessoais e a liberdade de expressão em ambiente digital.
No plano legislativo, o Projeto de Lei nº 2.338/2023, que institui o Marco Legal da Inteligência Artificial no Brasil, representa uma oportunidade concreta de inserir os neurodireitos de forma expressa no ordenamento jurídico. Embora o texto atual avance na regulação da IA em termos de governança, direitos dos titulares e responsabilidade civil, ainda não menciona a proteção à integridade mental como categoria autônoma, nem os neurodados como dados sensíveis, mas sua tramitação abre espaço para aperfeiçoamentos que considerem os riscos das tecnologias de modulação cognitiva e personalização comportamental, com exigência de transparência, auditoria algorítmica e garantias reforçadas de consentimento.
A maturidade do debate internacional evidencia que a proteção mental não é mais um tema de nicho ou de ficção científica, uma vez que já existem no mercado plataformas educacionais, ferramentas de recursos humanos, sistemas de segurança e aplicações de marketing que operam com base na leitura e resposta a padrões emocionais, cognitivos e atencionais dos usuários. Trata-se de um processo silencioso, muitas vezes imperceptível, mas com efeitos reais sobre a autonomia decisória, a saúde mental e a liberdade individual.
O momento é de construção e a regulamentação dos neurodireitos deve ser preventiva, baseada em evidências e conduzida por múltiplos saberes — jurídicos, científicos, tecnológicos e éticos, mas é urgente e necessário reconhecer a mente como um espaço que demanda salvaguardas próprias, seja no ambiente corporativo, educacional, clínico ou digital. Proteger a liberdade de pensar, e de continuar sendo quem se é, tornou-se um dos maiores desafios regulatórios do século XXI, e o Direito, se quiser manter-se fiel à sua função protetiva, precisa estar à altura dessa urgência.